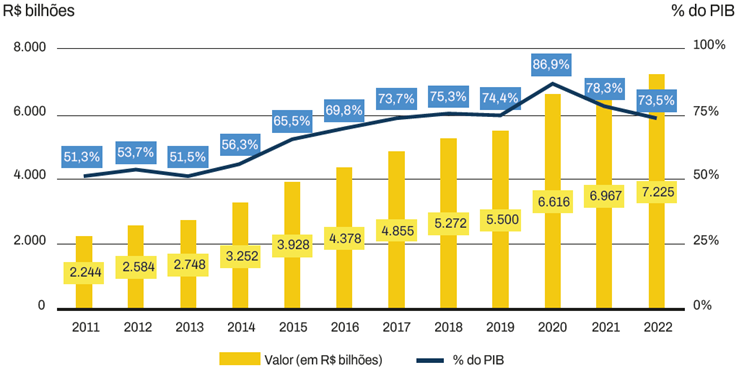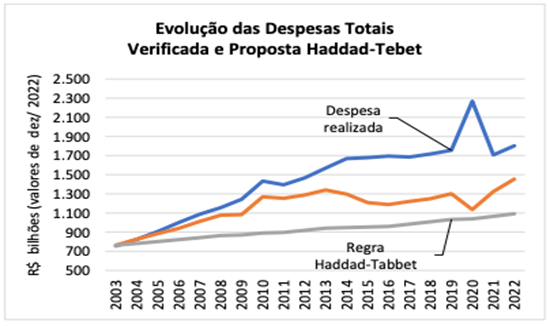No último dia 6 de setembro, o ministro Alexandre de Moraes confirmou a necessidade, sob pena de nulidade, de autorização judicial prévia para a investigação de agentes públicos com prorrogativa de foro. A decisão monocrática foi tomada em liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.447.
Ao deferir parcialmente a medida cautelar, o ministro também determinou o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, que tenham sido instaurados no Tribunal de Justiça do Pará pela polícia judiciária e pelo Ministério Público, para imediata distribuição e análise do desembargador-relator, a quem caberá analisar se há justa causa para a continuidade da investigação.
Na ação constitucional, alegou-se afronta à Constituição a respeito do foro por prerrogativa de função, uma vez que a jurisprudência da Suprema Corte afirma a necessidade de supervisão judicial desde a abertura do procedimento investigatório até o eventual oferecimento da denúncia.
Segundo o ministro Alexandre de Moraes, “a Constituição Federal estabeleceu, como regra, o julgamento dos processos judiciais em dupla instância, isto é, inicialmente por um juiz (primeira instância da justiça) e, posteriormente, por um colegiado (segunda instância). Por outro lado, o relator observou que, no contexto estadual, a Constituição Federal estabeleceu a competência privativa dos Tribunais de Justiça para julgar juízes estaduais (e do Distrito Federal) e membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade”.
Segundo ele, “as hipóteses de foro por prerrogativa de função são excepcionais ressalvas aos princípios constitucionais do juiz natural e da igualdade e, nessa condição, devem ser interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em regra”, ressaltando “que, conforme a jurisprudência do STF, as investigações contra autoridades com prerrogativa de foro no Supremo submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para o início das investigações.”
Essa decisão do ministro foi confirmada, por unanimidade, pelo plenário da Suprema Corte, na sessão virtual finalizada no último dia 20 de novembro, quando foi confirmada a necessidade de autorização judicial prévia para a investigação de agentes públicos com prerrogativa de foro.
Em seu voto no mérito da ação, o relator reiterou “que, de acordo com a jurisprudência do STF, as investigações contra autoridades com prerrogativa de foro na Corte se submetem ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para as investigações. Esse mesmo entendimento tem sido aplicado pelo Supremo na solução de controvérsias relacionadas aos tribunais de segundo grau.”
Pois bem.
Esta decisão da Suprema Corte segue decisões anteriores no sentido de que quando o investigado tem prerrogativa de foro, a respectiva apuração criminal deverá ser “supervisionada” pelo respectivo órgão jurisdicional competente.
Com efeito, a 2ª Turma concedeu Habeas Corpus de ofício para extinguir, por ausência de justa causa, a Ação Penal nº 933, ajuizada contra um deputado federal, acusado de praticar um crime eleitoral. Em questão de ordem, os ministros entenderem que houve nulidade na investigação com relação ao réu, uma vez que o procedimento foi supervisionado por Juízo incompetente. De acordo com os autos, o parlamentar foi indiciado em inquérito supervisionado por Juiz de primeiro grau quando cumpria mandato de prefeito. Recebida a denúncia em primeira instância, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal após a diplomação do réu como deputado federal.
Segundo ficou definido nesta decisão, a competência para supervisionar investigação de crime eleitoral imputado a prefeito é do Tribunal Regional Eleitoral, segundo destacou o relator da ação, ministro Dias Toffolli, citando o Enunciado 702 da súmula do Supremo Tribunal Federal. No caso, segundo o ministro, houve indícios de que o então prefeito teria praticado crime eleitoral por ter supostamente oferecido emprego a eleitores em troca de votos, valendo-se do cargo que ocupava. “Nesse contexto, não poderia o inquérito ter sido supervisionado por juízo eleitoral de primeiro grau e muito menos poderia a autoridade policial direcionar as diligências apuratórias para investigar o prefeito e tê-lo indiciado”, disse o relator. Dessa forma, segundo ele, “a usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral para supervisionar as investigações constitui vício que contamina de nulidade aquela investigação realizada em relação a este detentor de prerrogativa de foro”. Seguindo o entendimento do relator, os ministros da Segunda Turma votaram pela concessão de habeas corpus de ofício para extinguir a ação penal originária por ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, III do Código de Processo Penal, diante da nulidade do procedimento investigatório.
Da mesma maneira, no julgamento do Inquérito nº 2.116, em que o Ministério Público Federal pedia a apuração de possível envolvimento de um senador em suposto esquema de desvio de verbas federais em obras municipais, o plenário decidiu que o inquérito deveria prosseguir sob a fiscalização da Suprema Corte.
Também no julgamento do Inquérito nº 3.305, no qual um deputado federal era acusado de fazer parte de quadrilha destinada ao desvio de recursos públicos. Neste caso, a denúncia foi rejeitada em razão de o inquérito ter sido conduzido em primeira instância, mesmo depois da inclusão de parlamentar federal entre os investigados. O então relator do inquérito, ministro Marco Aurélio, ressaltou que o entendimento do Supremo Tribunal Federal era de que a competência do Tribunal para processar autoridades com prerrogativa de foro inclui a fase de inquérito. Uma vez identificada a participação dessas autoridades, os autos devem ser imediatamente remetidos à corte. “É inadmissível que uma vez surgindo o envolvimento de detentor de prerrogativa de foro, se prossiga nas investigações”, afirmou. Seu voto foi acompanhado por unanimidade.
Com o mesmo entendimento, a 1ª Turma determinou o arquivamento do Inquérito nº 3.552, no qual um deputado federal era acusado de contratação de uma funcionária fantasma em seu gabinete na Câmara dos Deputados. Os ministros acolheram a questão de ordem apresentada pela defesa no sentido de que o Inquérito nº 3.552 era um desmembramento do Inquérito nº 3.305, arquivado pela Primeira Turma, em julgamento anterior, por ter sido conduzido em primeira instância, mesmo depois da inclusão de parlamentar federal entre os investigados, usurpando a competência do Supremo. O então relator do inquérito, ministro Marco Aurélio, observou que o entendimento do Supremo é de que a competência para processar autoridades com prerrogativa de foro inclui a fase de inquérito. Dessa forma, assim que for identificada a participação dessas autoridades, os autos devem ser imediatamente remetidos à corte.
Também neste mesmo sentido, o ministro Gilmar Mendes determinou o arquivamento do Inquérito 2.963, contra um senador, sua esposa e quatro filhos por suposta prática dos crimes de falsidade ideológica, desvio de contribuições previdenciárias e crimes contra a ordem tributária. O inquérito foi instaurado pela polícia federal, por requisição do Ministério Público Federal. A decisão, conforme o ministro, ocorreu sem prejuízo de que novo procedimento de investigação venha a ser instaurado para apurar os fatos citados na notícia-crime. Porém, ele entendeu que o inquérito deveria ser trancado por não ter sido requerido pelo procurador-geral da República. O relator observou que a requisição para a instauração do inquérito pela polícia federal foi realizada por procurador da República, sem qualquer delegação do procurador-geral da República.
Naquela oportunidade, o relator afirmou: “Como cediço, o inquérito para investigar fatos em tese praticados por membro do Congresso Nacional, na qualidade de coautor ou autor, não só é supervisionado pelo STF, como tem tramitação eminentemente judicial e não obedece ao processamento dos ordinários inquéritos policiais”, salientando que, nesses casos, a abertura da investigação apenas se dá no Supremo Tribunal Federal, por requisição do procurador-geral da República ou de subprocurador-geral da República que atue na corte mediante delegação.
Em outro julgamento, o plenário decidiu, na Petição nº 3.825, que “a abertura de inquérito originário no STF depende de requisição do procurador-geral da República e de supervisão desta Corte”. Para o relator, “há vício de origem na instauração do presente procedimento, ao menos no que diz respeito ao membro do Congresso Nacional investigado”. Isso porque, no caso, o delegado de Polícia Federal apenas comunicou ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República a instauração do inquérito, ao mesmo tempo em que determinou a prática de diversos atos de investigação. “Agindo dessa forma, a Polícia Federal, de acordo com requisição de procurador da República oficiante em 1ª instância, chamou para si atribuição que é do procurador-geral da República, exercida perante o Supremo Tribunal Federal”, afirmou o relator.
Outrossim, o ministro Teori Zavascki determinou o arquivamento da Petição nº 5.220, lembrando que cabia ao procurador-geral da República oferecer inquérito, com exclusividade, para apuração de fatos delituosos envolvendo detentores de prerrogativa de foro na Suprema Corte. “A atuação do titular da ação penal, nas investigações perante o Supremo Tribunal Federal, ganha contornos especiais, tanto que é irrecusável a promoção de arquivamento de inquérito apresentada pelo procurador-geral da República, em especial quando ausentes elementos à formação da sua opinio delicti”, ressaltou o ministro. No caso, conforme o relator, o próprio chefe do Ministério Público assinalou que não há notícia de que o suposto autor do referido vazamento de informações seja detentor de prerrogativa de foro no âmbito do Supremo, “o que, por si só, impede a instauração de inquérito perante esta Corte”.
Mesmo quando se trata de governador, a investigação criminal será levada a cabo pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo necessidade, para tanto, de autorização da Assembleia Legislativa, que somente será de rigor para admissibilidade da acusação. Neste sentido, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, autorizou a abertura de investigações envolvendo dois governadores. O ministro apontou que, em situações envolvendo governadores, a corte tem reconhecido a possibilidade de que processos e julgamentos dependem de autorização do Poder Legislativo. “Todavia, é bem de ver que, nesta fase inicial de investigação, ainda não é o caso de requerer autorização prévia das assembleias legislativas”, escreveu (Sindicância nº 456 — Processo nº. 2015/0006612-0).
Sobre a investigação criminal supervisionada judicialmente, assim afirmou o ministro Gilmar Mendes:
“Se a Constituição estabelece que os agentes políticos respondem, por crime comum, perante o Supremo Tribunal Federal (Constituição Federal, art. 102, I, b), não há razão constitucional plausível para que as atividades diretamente relacionadas à supervisão judicial (abertura de procedimento investigatório) sejam retiradas do controle judicial do Supremo Tribunal Federal. A iniciativa do procedimento investigatório deve ser confiada ao MPF contando com a supervisão do Ministro-Relator do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal não está autorizada a abrir de ofício inquérito policial para apurar a conduta de parlamentares federais ou do próprio Presidente da República. No exercício de competência penal originária do Supremo Tribunal Federal (Constituição Federal, art. 102, I, b c/c Lei nº 8.038/1990, art. 2º e Regimento Interno, arts. 230 a 234), a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis. Questão de ordem resolvida no sentido de anular o ato formal de indiciamento promovido pela autoridade policial em face do parlamentar investigado. Conforme o Supremo Tribunal Federal: A outorga de competência originária para processar e julgar determinadas Autoridades (detentoras de foro por prerrogativa de função) não se limita ao processo criminal em si mesmo, mas, à base da teoria dos poderes implícitos, estende-se à fase apuratória pré-processual, de tal modo que cabe igualmente à Corte — e não ao órgão jurisdicional de 1ª instância — o correlativo controle jurisdicional dos atos investigatórios (Supremo Tribunal Federal: Reclamação 2349/TO, — Reclamação nº 1150/PR). A inobservância da prerrogativa de foro conferida a Deputado Estadual, ainda que na fase pré-processual, torna ilícitos os atos investigatórios praticados após sua diplomação (Supremo Tribunal Federal: Habeas Corpus 94.705/RJ, relator Ministro Ricardo Lewandowski). A partir da diplomação, o Deputado Estadual passa a ter foro privativo no Tribunal de Justiça, inclusive para o controle dos procedimentos investigatórios, desde o seu nascedouro até o eventual oferecimento da denúncia” (Inquérito nº 2.411/MT, Informativo 483).
Não obstante tais decisões, sempre nos pareceu um tanto quanto estranho que um órgão jurisdicional “supervisione” uma investigação criminal e depois processe e julgue o mesmo caso penal (sendo o relator também o mesmo, o que é mais grave).
Com efeito, sob o ponto de vista do sistema acusatório, e em respeito às suas regras e aos seus princípios, tal “investigação supervisionada” soa, no mínimo, inadequada e estranha aos postulados constitucionais. Por enquanto, porém, é o que temos nesta verdadeira “torre de babel” que é a investigação preliminar no processo penal brasileiro.
Rômulo de Andrade Moreira é Procurador de Justiça do Ministério Público da Bahia, professor universitário e integrante do Coletivo Transforma MP.